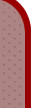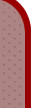O PÃlula resgata do baú grandes filmes (e discos) pouco comentados, que estão sempre disponÃveis na prateleira da sua locadora - ou nas prateleiras virtuais da web.
Se o cinema fosse criado apenas para que âBarry Lyndonâ pudesse ser feito, já teria sido o bastante. Existem, ninguém duvida, muitas outras maravilhas em pelÃcula, mais ou menos divertidas que essa história de um pobretão irlandês que consegue alcançar a riqueza na Inglaterra do século XVIII. Raro é encontrar um filme que tenha tão enlaçado em seu código genético o que o cinema pode render de mais fundo: fazer quem assiste sentir no próprio corpo, em apenas duas ou três horas, a sensação do peso de toda uma vida.

Barry
Esse peso não vem apenas da habilidade de amarrar um fato após o outro num chumaço de papel chamado roteiro. Vem da habilidade em girar um personagem na roda do destino e deixar claro que é a vida, ou qualquer que seja o nome que você dê para o composto de tudo isso que nos cerca, que dá boa parte das regras. Jogar bem ou não os dados ajuda, mas às vezes não há nem o que jogar.
Mais do que a habilidade de Lyndon em conquistar uma fortuna na pura lábia ou perdê-la numa mordomia crescendo em bola-de-neve, Stanley Kubrick (1928-1999), o diretor, parece interessado no humilde projeto de filmar a história da humanidade. E ele bem sabe que voltar à descoberta do fogo pode ser necessário para contar essa trama algumas vezes ( tanto foi até lá em â2001: Uma Odisséia no Espaçoâ), mas não em todas elas. Aqui, basta se concentrar na história contada pelo romance de William Makepeace Thackeray, que escreveu também âFeira das Vaidadesâ.
A possibilidade de tomar um punhado de histórias â aquelas que compuseram seus filmes - e nelas riscar o contorno de uma História Universal acontece porque Kubrick implanta um ângulo Ãntimo para observar o ser humano: o vÃcio e o poder. A sensação de poder nasce no mesmo momento em que surge a impotência diante dele. Poder, em sentido bruto, é criar um grau de impotência no outro. E tornar também impotente aquele que recebe a força e já não sabe como viver sem aquilo. Um vÃcio pode então alimentar o poder â a jogatina, a pedofilia, a guerra atômica, a violência como diversão, o fetiche de observar. E o poder talvez fosse, desde o começo, a razão do vÃcio.

Em famÃlia
Redmond Barry, o camponês que um dia será Barry Lyndon, sabe apenas que o poder em forma sólida e palpável tem o formato de moedas de prata ou de ouro, jóias diversas e, descobre depois, um tÃtulo de nobreza. Seu interesse nisso não é humilhar ou rebaixar quem quer que seja (ainda que isso acabe fazendo parte), mas apenas afogar, numa coleção de roupas e amantes, o sentido da vida.
Ancorado nas estupendas imagens com luz natural do diretor de fotografia John Alcott, Kubrick filma, essencialmente, arquitetura. Salões, quartos, saletas, varandas, jardins e mais jardins, escombros, pórticos. Arquitetura, num filme como âBarry Lyndonâ, é a escultura daquilo que os homens desejam ser e, os que podem, esculpem como a própria casa. Mas, sendo um desejo feito em concreto, acaba trazendo à superfÃcie também todos os vÃcios, devidamente recobertos por duas, três camadas virtuosas de tinta e reboco.
Em qualquer filme de Kubrick, os lugares acabam traindo o que os homens tentam acobertar. E a casa é sempre maior que um homem, um jardim muito mais extenso do que a vista resume. Ao filmar esses humanos tão pequenos diante do que os cerca, o que está sempre presente e implÃcito é: o tempo passa. E muito mais rápido para nós, feitos de carne e de sopro.
Lyndon, que conquista esse sobrenome ao se casar com a viúva de um nobre, desde cedo escolhe (ou é escolhido para) tomar seu lugar à margem desse tempo. Parece simples: basta converter o poder conquistado numa máquina pronta a satisfazer cada vontade, e engolir a satisfação até engasgar. Preenchido assim, parece fácil não se ligar a alguém ou a idéia alguma. Com a sensação de que nada se perde, porque não o que ser perdido, o tempo torna-se pluma. E o espaço pode ser tranquilamente entupido por açúcar, paetês, sapatilhas, babados, chapéus, e carinhos comprados.

à vontade
Por isso o rosto de Ryan OâNeal, o ator que faz Barry Lyndon, é uma espécie de terreno vazio onde Kubrick ergue sua história. à sobre ele, e sua expressão na maior parte do tempo dormente, que ganham sentido centenas (milhares?) de histórias pessoais tocadas com o propósito de se manterem alheias à vida â aquelas que a televisão e as revistas de fofoca consomem e servem como prato principal. Barry Lyndon queria ser somente e apenas uma celebridade, para encontrar no lado de lá dos holofotes o repouso final, absoluto.
à arriscado partir para a definição de que ele não podia vender sua alma porque foi concebido sem esse item de série. Como em todo filme de Kubrick, a história parte de algo já estabelecido, cuja origem não pode ser alcançada. Nesse caso o pouco que é desvendado sobre o passado e a infância de Lyndon não dão combustÃvel para qualquer causa/efeito. Possivelmente porque essa sombra sobre as origens só aumenta a identificação e o desconforto de quem assiste à história. Não é preciso se reconhecer em todo o destino de Lyndon, mas somente naquela anestesia tão confortável do momento presente. O que só torna ainda mais potente a vertigem do poder e a queda quem vem na esteira, ainda que anunciada desde o começo.
Tudo então se resume a um momento: numa frase, perto do aniversário do filho de Lyndon, o narrador anuncia a tragédia que logo vai entrar em cena. E naquele momento, apesar de todo o anúncio de que a coisa acabaria mal, a sensação de desgraça em quem assiste é exemplar daquilo que o protagonista, usando toda sorte e esperteza, se esforçou para escapar: a impotência diante de algo que foge às próprias mãos - a vida, ou qualquer que seja o nome que você dê para o composto de tudo isso que nos cerca.